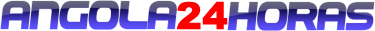Depois de anos e anos a fio a assistirmos impassíveis ao desmantelamento silencioso de uma Nação; depois de décadas a polvilhar o solo fértil da Nação com a indiferença mais sublime, eis que a colheita vem em forma de… vandalismo! Quem diria que a negligência plantaria algo tão surreal… Nestes 50 anos, a educação foi tratada como aquele parente pobre que só convidamos para o Natal por obrigação. Como um detalhe, um luxo, um capricho de quem não tem mais o que fazer.
As políticas públicas, essas sempre foram obras de arte abstractas: lindas no papel, indecifráveis na prática e completamente alheias aos anseios daquela massa chata que insiste em querer dignidade. E assim, entre a inacção e o descaso, viu-se erguer, num espetáculo de arquitetura do absurdo, bairros de latas e casas empilhadas como blocos de Lego defeituosos.
Enquanto isso, o erário, esse saco sem fundo do qual brotavam milagres para alguns e migalhas para outros, era pilhado com a destreza de um mágico ilusionista. O destino mais honroso do dinheiro, que devia ser nosso, era, sem dúvida, o estômago satisfeito e as malas cheias dos que se sacrificaram em banquetes fartos e viagens intercontinentais. Comiam e bebiam do bom e do melhor, esses nossos intrépidos exploradores de mundos, desbravando aeroportos e hotéis cinco estrelas.
Viram a grama mais verde do vizinho, os hospitais que funcionam, as escolas que ensinam. Enquanto o povo contava as moedas para o pão de cada dia, eles exploravam as maravilhas do mundo, da Torre Eiffel às pirâmides do Egito, absorvendo culturas e saberes. O que trouxeram de volta? As fotos, as lembranças, e talvez algumas caixas de charutos cubanos. Replicar as realidades lá de fora? Para quê?
A originalidade do caos aqui é muito mais… autêntica. Assim, com mestria inigualável, cavaram um abismo tão profundo que faz a Fossa das Marianas parecer uma poça d’água. Um fosso de desigualdade que grita, de discriminação que sangra, de pobreza que mata e de fome que corrói a alma. E agora, depois de anos a regar essa planta exótica com a água da indiferença e o adubo da corrupção, a população, essa mesma população que foi ignorada, pisoteada e esquecida, resolveu manifestar-se.
O povo que observava, pacientemente, até que a paciência, como um balão muito cheio, finalmente estoirou, escolheu a greve dos taxistas como um singelo pretexto para uma sessão de ‘caça ao tesouro’ urbana. E extravasou à moda antiga: saqueando o que via pela frente. Um grito de desespero, uma vingança tardia, ou talvez apenas a manifestação mais primária da fome e da revolta.
E é nesse momento de catarse popular, onde a frustração acumulada transborda em actos que claramente não foram incentivados por nenhum manual de boas maneiras, que os arautos da ordem erguem as suas vozes, chocados, indignados. Vândalos! Dizem eles do alto da sua prepotência e com o ‘sobranceirismo’ de quem nunca viu uma arca vazia. Mas sério mesmo?
Não será apenas o eco longínquo de um grito abafado por anos, que finalmente encontrou a sua própria, e um tanto barulhenta, forma de expressão? Sim, vandalismo. Dizem eles. Porque, afinal, o saque do erário, a destruição da educação, a construção de guetos de miséria, a fomenta da desigualdade, isso não é vandalismo, certo?
Mas um povo faminto a revirar uma loja, ah, isso sim é a barbárie, a prova cabal de que somos todos uns selvagens ingratos. Mas enganou-se quem pensou que a ironia do vandalismo seria o ponto alto da nossa tragédia! Mal sabíamos que o palco estava apenas a ser montado para o acto final. A governação, na sua sabedoria enigmática, entendeu que era preciso "cortar o mal pela raiz".
E qual a melhor forma de erradicar um problema social complexo, fruto de décadas de descaso e pilhagem? Com diálogo? Com políticas públicas que visem a equidade? Com investimento na educação e saúde? Ora, ora, ora, claro que não! A solução mais eficaz, claro, é matar. Sim, matar. Ao que tudo indica, as forças de defesa, essas mesmas que deveriam proteger o cidadão, saíram com uma ordem clara e concisa: "atirar primeiro, perguntar depois". E assim foi. O que antes era uma revolta, ainda que caótica e desesperada, transformou-se num massacre.
Várias vidas se perderam, não para ladrões ou criminosos, mas pelas mãos daqueles que trazem o distintivo da lei. Inocentes e culpados, todos no mesmo balaio da punição sumária, da repressão brutal. As ruas manchadas de sangue, os lares em luto, o grito de desespero abafado pelo estampido das armas. E foram precisos quatro dias depois do início de toda a revolta para ouvirmos a voz presidencial.
Os mais optimistas que esperavam um pedido de desculpas, uma palavra de consolo ou, quem sabe, um mínimo de autocrítica, receberam algo bem diferente. João Lourenço, na sua tão aguardada aparição, não só defendeu a actuação das forças de segurança que dizimaram dezenas de vidas, como considerou que estas “actuaram no quadro das suas obrigações”. Sim, ouviu bem.
Matar civis, inocentes ou não, é, na sua óptica, uma actuação digna de aplausos. Como era de se esperar, o Presidente aproveitou a oportunidade para o seu número favorito: apontar o dedo a outros.
A culpa, obviamente, não reside nas décadas de descaso, na pilhagem do erário, na desigualdade abismal ou na fome que corrói o país. Longe disso! Para João Lourenço, estas acções não foram um grito desesperado da população oprimida, mas sim, uma trama diabólica. As acções foram premeditadas e orquestradas por "forças nacionais e estrangeiras". Bem, olhando para a oratória peculiar do nosso Presidente, para muitos talvez o seu ruidoso silêncio não tivesse sido assim tão mau.
Na verdade, ao olhar para a qualidade (ou a falta dela) dos discursos que nos habituou, uma terrível verdade se impõe: ter-se calado poderia ter sido o seu maior acto de serviço público. Porque sejamos francos: a última coisa que este incêndio nacional precisava era de mais gasolina. E se há algo em que o discurso presidencial se tornou especialista, é precisamente em atiçar chamas onde já ardem brasas.
A cada intervenção, a expectativa de uma palavra de consolo, de direcção, de empatia, é quase sempre frustrada por um emaranhado de frases vazias, de uma desconexão gritante com a realidade. Então, sim, talvez tivéssemos sido poupados de uma nova dose de retórica vazia. É uma constatação amarga, sem dúvida, mas o silêncio, neste caso, não teria sido ouro, mas talvez tivesse sido um mal menor.
Suely de Melo / VE